Ingratitude
author:: chicoary
source:: Ingratitude
clipped:: 2023-05-14
published:: março 17, 2017
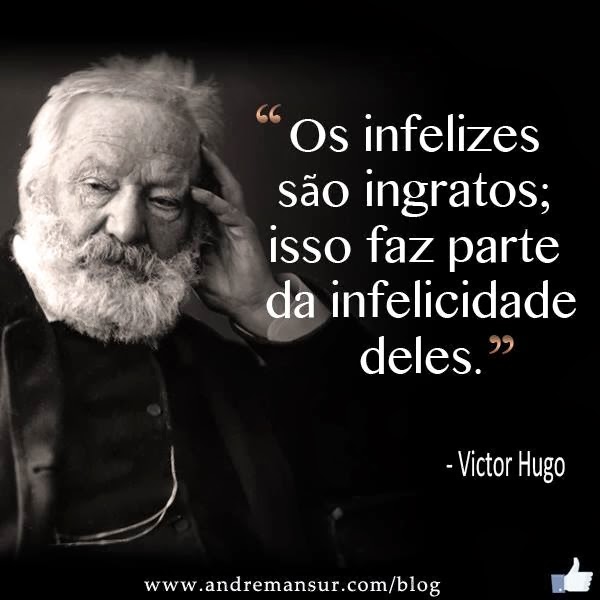

Fotografia de Flávio de Barros – Canudos em 1897
A ingratidão é mesmo uma coisa execrável mas não tem grande poder explicativo pois rapidamente é naturalizada em “o homem é um animal ingrato” e coisas do gênero. É mais uma constatação de que o resultado de uma ação visando o bem comum, por exemplo, não foi bem compreendida ou, se o foi, não se compreendeu quem são os benfeitores, ou então houve uma desconfiança generalizada sobre se houve benefício ou benfeitores de verdade. Se acreditou que o benefício e/ou os benfeitores foram falsos. Neste último caso o rótulo da ingratitude é fruto da diferença de paralaxe. Esta é uma visão desesperada em voga quando pessoas que se consideram líderes autênticos supostamente visando o bem comum opinam que o povo é ingrato. O povo é grato num nível absurdo que o faz dar a sua palavra que vai votar naquele candidato que deu os tijolos para terminar sua casa, e cumpre. Ingrato não! Talvez ignaro. O magnífico texto de Ulysses Ferraz, ligado à questão do “lugar da fala”, aprofunda a questão:
OS GRUPOS SOCIAIS SUBALTERNOS
Em Cadernos do Cárcere (Caderno 25), Antonio Gramsci aborda a questão dos grupos subalternos a partir de documentações históricas que descrevem o desenvolvimento de grupos sociais populares, desde os escravos da Roma Antiga, passando pelas Comunas na Idade Média, até as revoltas das massas rurais, como o movimento lazzarettista, em fins do século XIX na Itália. Em comum à documentação histórica tradicional, Gramsci chama atenção para o fato de esses movimentos populares serem retratados sempre como patológicos e anômalos, decorrentes de disfunções sociais localizadas, desconectadas de um contexto maior de opressão e dominação e, portanto, resultado de meros fatos isolados sem nenhuma conotação política relevante.
Para Gramsci, há uma tendência a retratar a emergência de um acontecimento coletivo de origem popular sem indagar acerca de suas causas a partir de “seu ser coletivo”, mas concentrando-se apenas nas características individuais e psicológicas de seus líderes. Em uma passagem notável, Gramsci afirma: “para uma elite social, os elementos dos grupos subalternos têm sempre algo de bárbaro ou patológico”. Como exemplo desse tipo de tratamento, Gramsci analisa os relatos sobre a vida de Davide Lazzaretti, líder de um movimento popular fuzilado pelas forças governistas da época. Os relatos sobre o movimento lazzarettista e seu protagonista carecem de profundidade e recaem invariavelmente em explicações, nas palavras de Gramsci, “restritivas, individuais, folclóricas, patológicas, etc.”. Algo semelhante ao ocorrido no Brasil, em Canudos, denunciado pela genialidade da crônica de Euclides da Cunha em Os sertões.
Em resposta a essa abordagem superficial, elitizada e distanciada dos fenômenos sociais, Gramsci vai chamar a atenção para a necessidade de o historiador estabelecer critérios metodológicos específicos para tratar das classes subalternas, uma vez que “a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente desagregada e episódica” (GRAMSCI, 2015, p. 135). As classes subalternas, “por definição, não são unificadas e não podem se unificar enquanto não puderem se tornar Estado” (Idem, p. 139). Assim, os grupos subalternos poderiam ser definidos como massas dominadas que não possuem atributos de classe, uma vez que não possuem meios para intervir como um ator político em face das forças socioeconômicas existentes.
PODE O SUBALTERNO FALAR?
Referência no campo dos estudos subalternos da tradição pós-colonial, ainda que contenha elementos de uma postura crítica a essa mesma tradição, o texto de Spivak denominado “Pode o subalterno falar” (1988) é um poderoso ensaio acerca da problemática da representação (no sentido de um “falar por”) no contexto dos grupos subalternos, a partir das formulações originais de Antonio Gramsci. Como ponto de partida, Spivak tece uma rigorosa crítica a intelectuais, mais precisamente a Deleuze e Foucault, que defendem a ideia de que é preciso deixar os subalternos falarem por si.
Na conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze, sob o título de Os intelectuais no poder, reproduzida no livro Microfísica do poder, há um trecho da fala de Foucault, que resume bem a posição de ambos no tocante a essa questão: “o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles; e elas o dizem muito bem”. (FOUCAULT, p.131)Spivak questiona a possibilidade da existência de um discurso subalterno, elaborado a partir dos próprios grupos subalternos, que possa representar genuinamente seus interesses, sem influência de ideologias dominantes. Quando acadêmicos ocidentais, como Deleuze e Foucault, argumentam em favor da eliminação de todos os possíveis intermediários que possam representar os grupos subalternos, para que tais grupos falem por eles mesmos, há uma crença equivocada, segundo Spivak, de que uma verdade autêntica, baseada tão somente na experiência efetiva de tais grupos, possa emergir sem as distorções da representação. A despeito das melhores intenções de seus autores, tal asserção acaba por subscrever um empirismo positivista, que é o princípio sobre o qual repousa o neocolonialismo capitalista avançado.
Outra questão relevante é que Deleuze e Foucault, em suas considerações, não levam as diferenças geopolíticas e a divisão internacional do trabalho no contexto de uma economia global e cada vez mais desregulamentada. A ideia de um sujeito fragmentado e desejante, capaz de fazer suas escolhas a partir de investimentos do desejo, mascara o fato de vivermos em um mundo profundamente marcado pela presença de uma ideologia de mercado, cujo núcleo duro se harmoniza perfeitamente à existência de um sujeito “autônomo”, “livre” e movido unicamente por seus desejos que, no limite, são desejos de consumo. Num certo sentido, ao afirmar que “nunca desejamos o que vai contra nossos interesses, porque o interesse sempre seque e se encontra onde o desejo está localizado”, Deleuze acaba por legitimar as teorias econômicas individualistas.
Para Spivak, a questão que escapa a Deleuze e a Foucault, é que a experiência é igualmente construída por meio de representações. Em outras palavras, a questão central não é simplesmente negar a possibilidade de representação, pois em vez de eliminar os problemas a ela associados, apenas os tornará mais difíceis de identificar. Uma vez que o poder está presente em toda parte, até mesmo na linguagem, a ideia de um discurso subalterno autêntico e livre de influências dominantes é praticamente impossível de se conceber. Portanto, a tarefa de interpretação ainda é necessária, apesar dos limites a ela inerentes. Nas palavras da própria Spivak, “a representação não definhou.”.
Ao longo de seu ensaio, Spivak vai fazer uma reflexão sobre a história das mulheres indianas e o ritual de imolação das viúvas. O problema é apresentado sobre o enfoque do sujeito subalterno feminino, que para ela está “ainda mais profundamente na obscuridade”. Spivak, ao trazer a história das viúvas que eram obrigadas a se autoimolar quando da morte de seus maridos, aponta para o fato de a mulher ser ainda mais frágil em um contexto cultural de forte dominação masculina. Em suas palavras, “o subalterno como um sujeito feminino não pode ser lido nem ouvido”.
Spivak conclui seu ensaio afirmando que o subalterno não pode falar. Contudo, isso não significa que deve se fazer ouvir mediante o discurso hegemônico e dominante. Se Foucault e Deleuze erram ao entender que o subalterno deve ser ouvido a partir de sua própria voz, como se não houvesse nenhum componente ideológico em sua fala, tampouco Spivak parece acreditar que o subalterno deve se deixar falar por um representante, alguém supostamente legítimo para reivindicar seus interesses. Spivak dá a entender que o dever do intelectual pós-colonial seria, em vez de falar por ele, o de trabalhar para eliminar a situação de subalternidade, para que subalternos deixem de sê-los e possam se organizar e se articular para que ganhem voz própria e, assim, finalmente possam ser ouvidos.
CONCLUSÃO
Nas palavras de Tim Maia, o Brasil é o único país em que pobre é de direita. A frase é emblemática. Mas não se trata de uma particularidade do brasileiro. Desfavorecidos defenderem o conjunto de valores que beneficiam os mais privilegiados, social e economicamente, não é exceção. E sim a regra. Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Sobretudo no caso dos grupos subalternos, como aponta Spivak, em seu livro Pode o subalterno falar.
Assim, o dominado defender a ideologia do dominante não deveria causar espanto pois é exatamente para isso que as ideologias servem: dominar sem se deixar revelar. A dominação, para ser eficaz, pressupõe falsificação. Dissimulação. Prestidigitação. É algo sutil, porém brutal e violento, que emerge sem alarde, nos espaços mais insuspeitos. Supostamente inofensivos e neutros. Naquele programa de TV favorito. No jornal de domingo. No refeitório da firma. Num jogo de futebol. No cinema. A dominação ideológica vive alojada nas entranhas dos espaços públicos e privados.
Como afirma o economista Ha-Joon Chang, “uma vez que os pobres estão convencidos de que a pobreza é culpa deles, que quem ganha muito dinheiro deve merecer, e que eles também poderiam se enriquecer se tentassem o bastante, a vida fica mais fácil para os ricos. Os pobres, muitas vezes agindo contra seus próprios interesses, começam a exigir menos impostos redistributivos, menos gastos sociais, menos regulamentações sobre as empresas e menos direitos para os trabalhadores. As preferências individuais – e não apenas dos consumidores, mas também dos contribuintes, operários e eleitores – podem ser manipuladas deliberadamente, e muitas vezes o são. Os indivíduos não são entidades soberanas, tal como retratados nas teorias econômicas individualistas”.
Se os dominados fossem capazes de detectar o estratagema, ganhar voz e, consequentemente, defender de maneira organizada seus próprios interesses, provavelmente não estariam sujeitos à dominação que os aniquila silenciosamente. Ou, no mínimo, mitigariam os efeitos dela, até ganharem forças suficiente para combatê-la sistematicamente e, pouco a pouco, eliminá-la. Logo, a existência mesma do dominado, em sua forma mais brutal e alienada, depende da estrutura de dominação à qual ele está sujeito. O dominado se conformar com a dominação e, no limite, legitimá-la, é a prova viva da eficácia da ideologia dominante. Contribuir para romper com esse círculo vicioso de dominação é um imperativo moral relevante de nosso tempo.
Como afirma Spivak, ao final de seu ensaio, “A mulher intelectual como uma intelectual tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar como um floreio”. **Em vez de falar pelo subalterno, desvelar as ideologias dominantes e trabalhar para que o subalterno deixe de ser subalterno e organize seus espaços de reivindicações e, portanto, de fala. Nenhum intelectual tem o direito de se eximir de tal tarefa. Ainda que não haja nenhuma garantia de resultado, é uma luta que vale por si. [**Negritos meus]
Bibliografia:
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. Volume 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
CHANG, Há-Joon. Economia: modo de usar. São Paulo: Portfolio-Penguin. 2014.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
Consultas na Internet: Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/index.html)